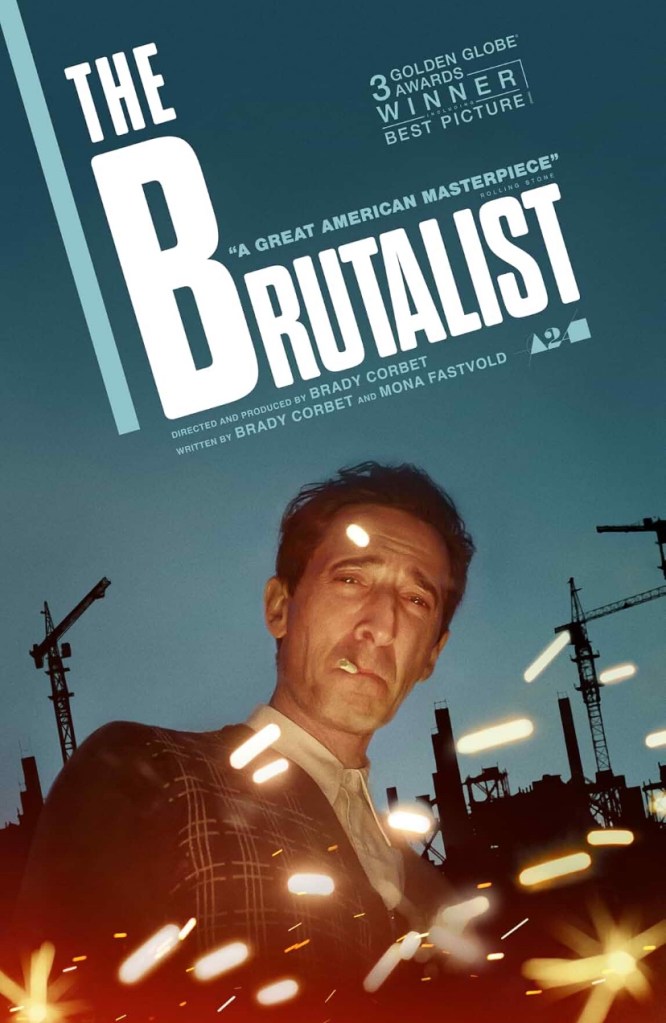Documentário na 49ª Mostra refaz o evento de 1978 que reuniu a contracultura
de Nova York para homenagear a obra, a lucidez e o humor do escritor

O filme Nova 78, presente na 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, é a história da contracultura reconstruída em hora propícia. Um documentário a nos lembrar do ponto de onde poderíamos ter partido para a construção de uma sociedade igualitária, não estivéssemos hoje mergulhados na distopia mundial que estagna a fraternidade e a justiça entre os povos.
Este é o filme em que vemos o escritor estadunidense nascido em Saint Louis William S. Burroughs (1914-1997) ser reverenciado por seus continuadores, entre 30 de novembro e 2 de dezembro de 1978, após mais de duas décadas das viagens por ele empreendidas à América Latina, à Europa e ao norte da África. Nas filmagens em 16mm feitas originalmente pelo cineasta Howard Brookner, morto com aids aos 34 anos, em 1989, e com o som providenciado pelo futuro diretor estadunidense Jim Jarmusch (nascido em 1953 e cujo mais recente filme, “Pai mãe irmã irmão”, também é exibido na mostra), podem-se acompanhar os passos do encontro intitulado Nova Convention, que 47 anos atrás perseguiu o conceito “nova”, de Burroughs, segundo o qual o futuro se escreveria no espaço, não no tempo.
Ao encontro realizado no Entermedia Theatre, teatro off-Broadway situado na Segunda Avenida com a Rua 12 (e convertido em um complexo de cinemas multiplex nos anos 1990), comparecem amigos e artistas da contracultura agradecidos à influência de Burroughs, como os poetas compatriotas Allen Ginsberg (1926-1977) e Peter Orlovsky (1933-2010). Os dois realizaram um show no qual Orlovsky acompanhou ao banjo a musicalidade poética de Ginsberg. Houve outras duplas de convidados, como a composta pelo bailarino Merce Cunningham e o músico John Cage, artistas que mantiveram uma parceria criativa e amorosa dos anos 1940 até a morte de Cage, em 1992. Em seu show, Cage aponta notas mínimas para o equilíbrio desenvolto de Cunningham, então com 59 anos.
A artista Laurie Anderson esteve presente ao evento com seu humor, a preconizar o futuro digital, e Philip Glass tocou as notas sonhadas de seu futuro em um sintetizador Yamaha. Frank Zappa compareceu, mas não fez um show musical: depois de informar a todos os presentes que não gostava especialmente de livros, leu o trecho de “Almoço Nu”, de Burroughs, no qual o Cu é o ventríloquo do homem, a peidar bobagens quando fala. O psicólogo e escritor Timothy Leary comparece a uma mesa em que compara uma fala de Burroughs a uma imagem causada pelo uso do LSD, alucinógeno que advogava. A poeta do rock Patti Smith tem de comunicar à plateia a ausência da prometida estrela Keith Richards no evento, mas não dá ao público muito tempo para protestar. Suas palavras poeticamente firmes e a guitarra pesada envolvem-no rapidamente. Além de Richards, outra ausência notável é a da ensaísta Susan Sontag.
O filme, contudo, não existiu per se. Ele nasceu a partir da descoberta de negativos de filmagens abandonadas pelo nova-iorquino Brookner, que em 1983 compôs a cinebiografia “Burroughs: The Movie” como um trabalho para a Universidade de Nova York. Foi seu sobrinho Aaron Brookner, autor em 2016 de um documentário sobre o tio, “Uncle Howard”, quem achou os rolos. Ele chamou o amigo português de Guimarães Rodrigo Areias (ao lado de quem, em 2020, produzira o filme de Ana Rita Rocha “Listen”), para construir uma narrativa a partir dos importantes fragmentos do encontro.
“Nova 78” é um achado que começa de maneira deliciosa, com Burroughs, aos 64 anos, sentado em uma cadeira, calado diante da pergunta que o cineasta lhe faz. Durante o filme, por vezes caracterizado com o chapéu e o terno que compunham a máscara de seu personagem público, ele tem bom humor e lucidez. Por exemplo, incita o público da Nova Convention à luta contra o projeto do republicano John Briggs, conhecido como Proposição 6, que seria votado (e derrotado) naquele ano, e que proibia gays, lésbicas e apoiadores de seus direitos de trabalhar nas escolas públicas da Califórnia. Em filmagem não relacionada à convenção, mas encontrada por Aaron Brookner entre os rolos de negativo, há vários excertos, entre eles a discussão sobre a recusa dos intelectuais ao governo dos aiatolás no Irã, problematizada por Burroughs: “Mas não precisaremos do petróleo deles?” É irresistível quando ele aponta a incongruência no sonho de encontrar, em planetas desconhecidos, o que já é conhecido, como a água…
Os rolos de negativos descobertos por Aaron Brookner renderão outros projetos, conforme acredita Rodrigo Areias. “Existem muitas dezenas de horas de arquivos incríveis e inéditos sobre a vida e a obra de William Burroughs no arquivo de Howard Brookner”, ele diz. “A ideia será fazer uma série de televisão mais biográfica, com a participação de uma série de entrevistas feitas hoje e outras dos arquivos. Existe também uma parte dos arquivos sobre a relação familiar de William Burroughs com o seu filho William Jr. e com o seu irmão. Coisas absolutamente inéditas e incríveis.”
A seguir, a entrevista que fiz por email com os diretores Aaron Brookner e Rodrigo Areias, os diretores de “Nova 78”.

Gostaria de começar perguntando quando vocês viram pela primeira vez o material que resultaria em “Nova 78”. Quem o apresentou a vocês? O que chamou sua atenção nele? O que os fez pensar que editar esses fragmentos seria uma boa ideia?
AARON BROOKNER: Eu tinha visto apenas breves vislumbres do material em “Burroughs: The Movie”, que Howard Brookner dirigiu e lançou em 1983. Então, quando comecei a procurar trazer de volta o filme de Burroughs (que remasterizamos e lançamos com a Criterion Collection em 2014), encontrei o primeiro lote de rolos negativos de tudo o que Howard havia rodado (1978-1982) para fazer aquele filme. E, obviamente, logo percebemos que havia muitos rolos com artistas. Mais do que ser apresentado a mim, conforme iniciamos o escaneamento, começamos a vislumbrar o evento pela primeira vez e a perceber que Howard o havia filmado como um documentário de show, com diferentes cenários e ângulos, bastidores, planejamento, etc. No outono de 1978, Howard ainda estava na NYU. Suas filmagens se tornariam o retrato de Burroughs, mas na época ele se referia ao material como NovaCon, porque esse era seu foco inicial. E então foi um desafio interessante tentar honrar a tentativa da filmagem original. Para usá-lo como foi pretendido na época, para mostrar a história da Nova Convention.
RODRIGO AREIAS: Vi as imagens deste material quando conheci o Aaron. Ele havia participado da escrita e da produção do filme “Listen”, de Ana Rocha, que eu produzi. Nessa altura, o Aaron me mostrou o filme que tinha feito sobre o seu tio Howard Brookner (“Uncle Howard”), o autor destas imagens. Nesse documentário, já existia a referência à Nova Convention. Claro que eu já conhecia a existência dessa convenção, sempre houve essa referência em torno da cultura beatnik. Mas nunca tinha visto imagens. Quando o Aaron me convidou para participar deste projeto como diretor, vi todas as cenas que haviam sido filmadas da convenção e muito mais horas de arquivo sobre William S. Burroughs, já que o arquivo de Howard Brookner é muito vasto.
Aaron nasceu três anos depois desta convenção em Nova York e Rodrigo, no mesmo ano. Vocês liam escritores como Burroughs, Leary, Orlovsky ou Ginsberg desde muito jovens?
AARON BROOKNER: Bem, sim, eu conhecia Burroughs desde muito jovem, graças ao meu tio. E comecei a lê-lo no ensino médio, junto com Allen Ginsberg e Jack Kerouac. Os beats faziam parte do currículo de inglês do Ensino Médio em Nova York, assim como J.D. Salinger, e talvez ainda façam, então comecei a descobrir todos os outros.
RODRIGO AREIAS: Bem, eu tenho uma obsessão com a leitura, tenho uma biblioteca em casa e a literatura ocupa um lugar muito importante na minha vida e no meu cinema também. E isso acontece desde muito cedo na minha vida. O meu primeiro longa (“Tebas”, 2008) começa com “O uivo”, de Allen Ginsberg, e é uma intersecção entre o “On the road”, de Kerouac, e “Édipo Rei”, de Sófocles. Debruço-me sobre escritores e obras literárias de forma insistente, pois é o universo em que vivo. Desta forma, chego ao Burroughs através dos outros autores beat, mas também a partir da música, a minha outra carreira que antecede a de cineasta.
Quando começou a aventura de restaurar o filme? Quão difícil foi fazer esta edição funcionar?
AARON BROOKNER: Comecei a procurar o trabalho de Howard há quinze anos e recuperei o primeiro lote de rolos negativos da era Burroughs de Howard em 2013. Alguns deles foram usados para os bônus de DVD do Criterion. Alguns foram usados no meu filme sobre Howard, mas, mesmo depois do filme, ainda estávamos trabalhando para compilar o arquivo. Toda a imagem e o som. Um empreendimento gigantesco.
Minha parceira na Pinball, a produtora Paula Vaccaro, e eu pensamos que finalmente tínhamos terminado em janeiro de 2022. Então, em fevereiro, descobrimos que mais filmes de Howard haviam sido descobertos pelo arquivista da obra do falecido poeta John Giorno [presente no filme]! E muitos desses rolos eram seções que faltavam da Nova Convention. Ao longo de 2022 e 2023, fizemos mais digitalização e sincronização e só então pudemos começar a edição.
É sempre um grande desafio editar um documentário de longa-metragem. E é um desafio específico criar um filme usando apenas filmagens daquele período. Felizmente, as filmagens são tão explosivas. Os atores, tão poderosos. As ideias ressoaram muito. Então, nos apoiamos na força da filmagem inicial. Na força dos personagens e do local, e não nos esquivamos do trabalho duro. Também quero acrescentar que foi necessária uma equipe muito talentosa para fazer a colorização, trabalhar com o som e o design.
Vocês tinham algum roteiro original em mãos? Anotações da equipe? Conseguiram falar com pessoas envolvidas nas filmagens originais para esclarecer alguma dúvida?
AARON BROOKNER: O escritor James Grauerholz [presente no filme] me deu anotações bem vagas, que meio que forneceram um modelo para todo o arquivo. Mas não havia anotações da equipe, e certamente nenhum roteiro ou documento direto a seguir. Pude conversar não só com James, mas também com John Giorno quando ele estava conosco, já que ambos eram os produtores do evento. Então, aprendi muito sobre o encontro com eles, especialmente com James. Jim Jarmusch, que fez o som, Tom DiCillo, que foi o cinegrafista, e Jim Lebovitz também. Conversei com todos. Eles certamente tinham algumas lembranças, mas a única pessoa que realmente saberia dos detalhes das filmagens seria Howard.
RODRIGO AREIAS: Este filme não tem roteiro. A ideia foi partirmos livres para a criação e montagem. Existiram várias versões anteriores onde prevalecia uma narrativa mais pessoal e biográfica sobre William Burroughs. Fomos experimentando contar outras histórias, mas eu fiquei sempre com vontade de mostrar estas imagens que nunca ninguém havia visto e fazer menos um filme biográfico, sempre algo mais visto.

muitos fragmentos dos rolos de negativos não-sincronizados, de difícil edição
Vocês informam no início de “Nova 78” que todo o material filmado naquela época — pelo menos, aquele que conseguiram encontrar — acabou utilizado na sua edição final. Por que decidiram usar todas elas?
AARON BROOKNER: Nós nos concentramos em usar as filmagens feitas no outono de 1978 porque a Nova Convention era naquela época, é claro. E também, na linha do tempo, muito do que Howard filmou nas semanas anteriores e posteriores estava relacionado ao evento. Seja Burroughs fazendo uma ligação para convidar “Tim” (Leary), ou elaborando algumas das ideias políticas sobre fundamentalismo e ataques a grupos minoritários que seriam incluídas em suas apresentações.
Foi muito, muito difícil encontrar tudo e conectar esses fragmentos. Imagine que eram rolos soltos de negativos. Não sincronizados. Organização obsoleta. Foi superdifícil. E também cada peça era convincente. As filmagens do mundo de Burroughs duraram quatro anos para o meu tio. No final, nos concentramos em 1978 porque nos deu estrutura e a chance de traduzir para o público a experiência de entrar em um portal do tempo, por 78 minutos, interrompidos de apresentações, ideias, música, comunidade e, com sorte, um lugar para refletir.
RODRIGO AREIAS: O Aaron havia recuperado o material de arquivo do seu tio uma década antes de 2022, quando apareceram mais de 40 latas de película do arquivo de Burroughs que nunca tinham sido vistas. Nisso havia uma parte substancial da Nova Convention que cobria partes do evento de que não se conheciam imagens. Desta forma, o Aaron me convidou para pensarmos um projeto juntos. A minha ideia foi desde logo poder contar a história deste encontro criativo de todo o avant-garde nova-iorquino do final dos anos 1970. Pareceu-me fazer mais jus à ideia original de Howard Brookner. Ideia que ele nunca conseguiu concretizar. Ou seja, isto não é o restauro de um filme. É um filme feito a partir de arquivos existentes. Filme esse que seria impossível fazer à época, pois o financiamento ao documentário era televisivo e um filme desta natureza seria muito difícil de existir então.
Vocês conversaram com os artistas sobreviventes que estiveram no evento de 1978? Com Patti Smith ou Laurie Anderson, por exemplo? Caso tenham conversado, o que lhes contaram sobre a experiência?
RODRIGO AREIAS: Houve um momento em que tanto Patti Smith quanto Laurie Anderson e a poeta Anne Waldman estavam disponíveis para serem filmadas dentro deste documentário, dando uma perspectiva do que foi o evento. Mas acabamos por considerar que esse contexto não seria benéfico para o filme. Seria melhor fazermos um filme apenas com as imagens de arquivo e, desta forma, conseguirmos apresentar uma bolha temporal.
AARON BROOKNER: Foi um momento consistentemente significativo para todos os presentes. Dos artistas ao público. Um evento raro que realmente simbolizou algo maior. A diretora de palco, Rebecca Litman (que na época se chamava Rebecca Christensen), descreveu-o como “o Woodstock do Lower East Side”.
Foi difícil reunir fundos para trabalhar no filme? Por que uma produção anglo-portuguesa e não americana?
RODRIGO AREIAS: Esta produção é anglo-portuguesa pois os produtores são a Pinball London, empresa do Aaron e da sua mulher Paula Vaccaro, sediada em Londres, e portuguesa, pois o financiamento é feito através do Instituto de Cinema e Audiovisual (ICA) e da Rádio e Televisão de Portugal (RTP). Tem que ver com a detenção de direitos por uma parte e com o financiamento português por outra.
AARON BROOKNER: É muito difícil arrecadar fundos para restaurar e preservar um único filme, quanto mais um arquivo inteiro em película, mas eu e a produtora Paula Vaccaro trabalhamos neste arquivo há muito tempo. A Pinball London, minha produtora no Reino Unido, já havia trabalhado com a Bando A Parte, de Rodrigo, com grande sucesso na produção de “Listen” (2020), e por isso decidimos trabalhar juntos novamente neste projeto em coprodução. Ficamos muito gratos pelo apoio do ICA, que realmente valorizou a importância cultural do material e a história que queríamos contar.

Vocês acham que continuarão procurando materiais para adicionar a este filme nos próximos anos?
AARON BROOKNER: Estou feliz com a experiência imersiva que o “Nova 78” oferece ao público. Também aprendi a manter a mente aberta a todas as novas descobertas.
RODRIGO AREIAS: Não para este filme. Mas sim outras possibilidades. Existem muitas dezenas de horas de arquivos incríveis e inéditos sobre a vida e a obra de William Burroughs no arquivo de Howard Brookner. A ideia será fazer uma série de televisão mais biográfica e com a participação de uma série de entrevistas feitas hoje e outras dos arquivos. Existe também uma parte incrível dos arquivos sobre a relação familiar de William Burroughs com o seu filho William Jr. e com o seu irmão. Coisas absolutamente inéditas e incríveis.
“Nova 78” filme nos mostra, com ironia involuntária, que nenhum dos presentes à convenção imaginaria um futuro tão distópico quanto o atual, especialmente nos Estados Unidos, cujo atual governo parece querer revogar todo o humanismo, a liberdade e o progresso ambiental sobre a Terra. Vocês enxergam este filme como um manifesto pela paz, justiça ou igualdade na América, em Portugal e no mundo?
AARON BROOKNER: Uma pessoa que certamente viu isso com bastante clareza foi Burroughs. Ele entendeu de forma muito ampla os perigos do fundamentalismo em geral. Não tinha vergonha de falar o que sentia ser correto. E, ao mesmo tempo, se manteve muito aberto e sem julgamentos. O que eu acho que este filme mostra é que a arte e as ideias, embora possam ser políticas, operam inerentemente em um nível mais profundo que transcende a nacionalidade e até mesmo a sociedade. É realmente uma questão espiritual. Nesse nível, estamos todos unidos e eu adoro que este evento tenha sido organizado em torno da troca de arte e ideias nesse espírito, que além de ser americano fala comigo como cidadão do mundo.
RODRIGO AREIAS: O posicionamento político de Burroughs é de uma lucidez e uma clarividência muito relevantes hoje. Conseguimos perceber que os problemas de 50 anos atrás ainda são os mesmos. As tentativas autoritárias voltaram um pouco por todo o mundo. Os Estados Unidos estão no pior momento da sua história, estão claramente a viver um fim de ciclo, o fim de um Império. O Brasil viveu um período dantesco com Bolsonaro. E Portugal caminha na mesma direção, como se não conseguíssemos ver o que se passa ao nosso redor. Nesse sentido, este filme tem esse propósito político de trazer à luz do dia ideias e conceitos sobre as liberdades e direitos nos Estados Unidos e no mundo. E se o filme puder ser um manifesto pela paz, justiça e igualdade em todos os lugares, então estamos a fazer alguma coisa certa.

NOVA ’78 (NOVA ’78)
Aaron Brookner e Rodrigo Areias
80 min.
REINO UNIDO, PORTUGAL.
Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português.
Na 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo:
ESPAÇO PETROBRAS DE CINEMA SALA 2: 24/10/25, 22h
INSTITUTO MOREIRA SALLES – PAULISTA: 25/10/25, 17h10