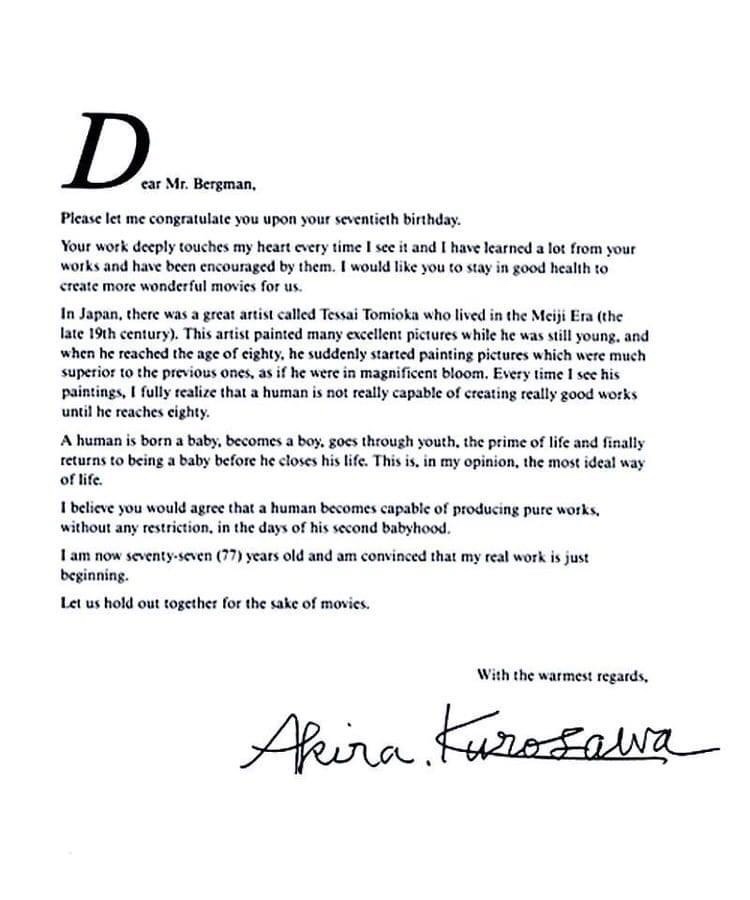A comédia de 1973, exibida na 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, recupera a suavidade demolidora do diretor francês Jacques Demy

grandeza que bem se vê
Curioso que a historiografia ocidental tenha colocado o diretor francês Jacques Demy (1931-1990) em um pé de página. Percorro rapidamente a biblioteca aqui de casa e constato a indiferença e o não-me-toques dos livros que o desprezam: o diretor Jean-Luc Godard o menciona como amigo em um poema, e fica por isso; os estudiosos de Éric Rohmer pedem o favor de não confundirem seu maravilhoso diretor com o outro; a crítica Pauline Kael sentencia que Demy fez tudo errado ao produzir um musical estático, inspirado nos estadunidenses, em seu clássico “Os guarda-chuvas do amor”. Não há créditos para Demy, ou todos eles foram usados para o bem unicamente por Agnès Varda, a viúva que o cultivou e o filmou nos últimos dias, tendo renascido ela mesma como estrela após sua morte e se tornado um justo objeto de culto atual.
Mais curioso ainda é que isto aconteça mesmo Demy não aparentando longinquamente ser demi, ser metade. E o que dizer daquele um quinto em que o confinaram? “Um homem em estado interessante” (1973) prova que meteram o diretor no lugar errado. Comédia não é algo simples de ser feito, ainda mais quando parece simples de ser vista – simples e louca -, além disso contestadora do estado de coisas. No caso, aqui, quase imbatível quando mistura uma rara leveza cômica com a substância, com o peso de uma argumentação reflexiva.

cabeleireira a vida inteira?
Em “Um homem em estado interessante” muitos universos cinematográficos se cruzam, da estranheza onírica assimilada como norma, originada em Luis Buñuel, ao desfilar do absurdo maquinário das ideias contemporâneas, na trilha de Jacques Tati. Demy é um demolidor suave. Para ele, neste filme, a confusão do Ocidente, sua grande ironia, está em determinar que toda fumaça de transformação possa sugerir a existência de um próximo passo, um fogo revolucionário (cinco anos se passaram desde 1968), embora essa rebeldia vá resultar no apagamento de sempre, o do consumo que destrói coisas belas. Ah, como é dolorosamente risível viver no capitalismo!
Marcello Mastroianni – há sempre Marcello nos tantos outros que interpreta – encarna o dono de uma auto-escola mal-sucedida em seu fundamento, o de ensinar os alunos a dirigir. Sua esposa, Catherine Deneuve, não é esposa, embora mãe de seu filho, uma cabeleireira com sonhos de subúrbio (e que grande atriz: terá nos enganado o tempo todo e sido cabeleireira a vida inteira?). Do nada Marcello começa a enjoar e sua barriga cresce demais, o que leva grandes especialistas médicos (uns empolados fumantes professorais) a constatarem que engravidou.

a evocação de aspectos de uma vida a dois
Um parênteses aqui é que Demy parece evocar diretamente os atores Catherine e Marcello, na época pais de uma menina, mas nunca casados, no seu filme. O diretor Mario Monicelli ria ao contar que Marcello às vezes viajava no fim de semana para a Itália de modo a trazer um prato de comida como presente para Catherine, na França. Um prato de comida! Para Catherine! E então a barriga de Mastroianni passa a fazer mais sentido…
O fato é que a narrativa de Demy parte da conclusão médica para sua exploração pela imprensa (dos noticiários aos risíveis debates), pela publicidade e pelo próprio casal, feliz por negociar a um preço alto a novidade a lhes ocorrer, que, embora equiparável à descida do homem na Lua, nasceu, segundo um especialista, do consumo excessivo de alimentos processados com hormônios. O filme debocha de maneira avant-garde da condição de um homem grávido: logo o aborto será decretado uma normalidade indispensável, dizem as clientes do salão de beleza de Catherine…
Todo o cenário de cores vivas, o entorno urbano frenético, os pobres, os esnobes, os atores, os ricos, tudo neste filme fala e se agita, compondo um vigoroso painel documental de um tempo e de um lugar. Meus vivas inteiros para Demy, que após a sessão de cinema me fez ver com seus olhos a loucura da cidade onde vivo.

Na 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Sessões no Espaço Augusta 2, 19h40 do dia 24, e no Espaço Augusta 1, às 15h50 do dia 28.