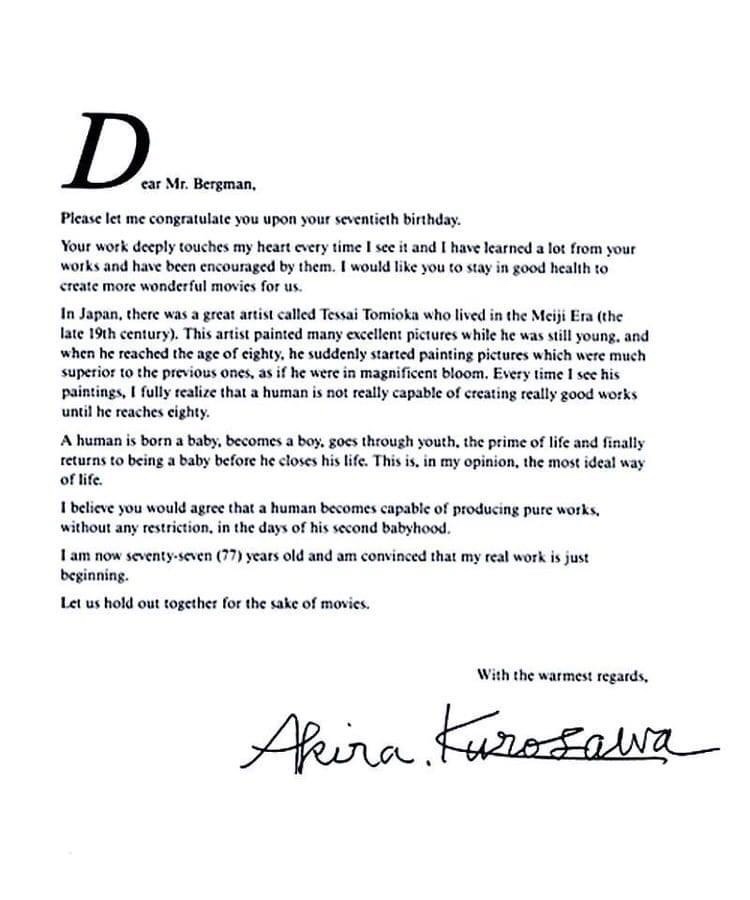Uma amiga veio de passagem ao Brasil e quis me ver antes de voltar para a casa estrangeira. Conhecedora de São Paulo, onde morou e trabalhou por anos, desta vez ela pareceu receosa de me visitar no centro, como se fosse uma turista recente, porém avisada dos perigos do subdesenvolvimento. Marcamos então um almoço em região acessível a ela, Higienópolis.
Embora eu não more assim tão longe do bairro, é como se nós dois, o bairro e eu, nos medíssemos em léguas, corporalmente avessos, mentalmente distantes. Esses lugares de São Paulo onde mora a gente de bem, eu os entendo assustadores. Estudei como bolsista em colégio de rico, conheço o pessoal e, em sua maioria, para resumir, não sou fã. Eis por que Higienópolis, para mim, é o lugar de ricos (ou dos quase ricos, ou dos donos temporários do dinheiro) aonde vou apenas quando tenho de me consultar com o otorrino do convênio na Angélica, essa espécie de avenida off dos higienopolistas.
É um bairro bonito? É histórico. A beleza, a história lhe dá. Os casarões dos barões, dos mecenas, a arquitetura dos grandes, isso a gente sorve bem. Tudo conservado em alguma medida – das cercas para dentro, quero dizer. Porque o abandono existe naquela área da cidade sempre quando a vemos sob o ponto de vista público. Testemunhei ruas alagadas nas ladeiras e, ao percorrê-las, os homens pretos carregavam os mesmos cartazes de papelão nos quais, aqui no meu centro, sinalizam a vontade de comer.
Andei por quarenta minutos de casa até o shopping onde iria almoçar. Um percurso embranquecedor, do relativo miserê ao nariz alto. Quando cheguei ao restaurante do shopping, agradeci pelo ar condicionado, que secou o suor vexaminoso em meu vestido. Estar ali com minha amiga era como pular na piscina azul, splash das alegrias da infância. Nem sei dizer o quanto anima meu coração sentir sua proximidade. Meus amigos estão espalhados pelo mundo, Jamaica, Índia, Grécia, Vila Olímpia, não sei mais o que fazer para conversar com eles e desfrutar decentemente de nosso amor! Ainda bem que desde alguns anos meus queridos de todo dia são vocês, embora a gente só se veja pelas redes sociais. Mas nos temos, certo? Agradeço tanto.
Pois então. Higienópolis. Shopping Higienópolis. A coisa ali é mais funda do que apenas não haver negros entre os consumidores. (Ou dei um azar danado de não ter localizado nenhum, ao contrário do que ocorre em qualquer loja, shopping ou restaurante da região onde moro.)
No Higienópolis, parecem-se todos, ou a maioria deles, consumidores extraídos da própria existência. E, por isso, birrentos, à espera das respostas que ninguém será capaz de lhes dar. Assemelham-se a galhos secos vestidos nas sandálias de cor creme. Desfilam com três ou quatro sacolas nas mãos. Três ou quatro! E brigam com as vendedoras de sapatos quando apenas gostariam de ser ouvidos por elas. Enquanto isso, as lojistas sorriem para nós como se pedissem ajuda. Elas, consumidoras (os cabelos curtos se velhas, longos se jovens), têm o coração empapado de promessas não cumpridas. Simulam que existem, achei, até concluir que simular resume seu modo de existir.
Vi principalmente solidão no shopping. Vi uma dor. Tá, concordo que isso não deveria me sensibilizar. Eu sei que naqueles vestidos lima-siciliano de linho moram criaturas rasas sem asas, a tiranizar seus cachorros acomodados em carrinhos de bebê. Sei que, além de nossa alegria, os seres sem asas tiraram a dos cachorros também. Sei que engoliram tudo, toda a esperança de justiça social, enquanto emagreceram mais e mais, assegurados pela dieta gorda dos dólares. Sei de tudo isto, e no entanto… É tão comovente. Tanto. Choro ao caminhar entre eles. Três, quatro sacolas de compras todos os dias, pense! E, naquele dia chuvoso, eu obrigada a testemunhá-los, trancada para dentro das cercas douradas… Uma dor. Três dias desde que tudo isso aconteceu, desde que a visão desses mortos barulhentos me perturbou e dilacerou, mas, ainda hoje, uma dor.