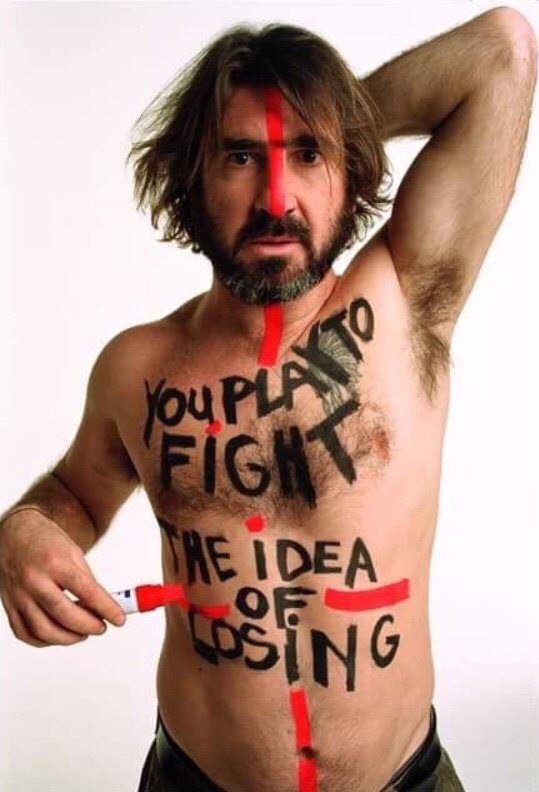Satisfatória. Assim muitas vezes German Lorca se refere a cada etapa de sua obra durante o minidocumentário dirigido pelo filho José Henrique e exibido na retrospectiva “German Lorca – Mosaico do Tempo, 70 anos de fotografia”, no Itaú Cultural, em São Paulo.
Um artista que classifica como satisfatório cada passo de seu trabalho deve falar a verdade. Não se vive no mesmo patamar, alto ou baixo, quando se produz algo de valor indefinível como a arte. Satisfaz-se com ela. Ou não se satisfaz. E segue-se adiante. Sem que quase ninguém, exceto talvez o artista, consiga entender por quê. A arte está no futuro que dificilmente nos cabe ver.

Em 96 anos de vida, 70 de fotografia, German Lorca segue sempre. Não só por São Paulo, vejam. São Paulo quase não está em jogo aqui. Sua cidade não é documental. O fotógrafo olha para si.
E está armado da ideia de satisfação. Se ela não existe ainda, eu devo procurá-la. Sorrio enquanto caminho. E devo seguir longevo, lúcido, agitado e feliz, mesmo se a procura é dura. A indefinível pirâmide, somente eu posso ver. E estou chegando lá!

Apenas suas fotografias não sorriem. São sóbrias declarações da difícil permanência humana entre as quatro ou mais linhas do campo da vida em que se deve jogar.
Às vezes, são fotos que aspiram ao encaixe, à iluminação, à elevação, como esta do menino que empina pipas.

Às vezes, são espelhos de desdobramentos, de inquietudes de quem se perde na cidade e se fere por seus ângulos, ou busca clareiras.
Às vezes, ele queima por dentro, como quando adota o processo de solarização, aquele em que faz rápida exposição da imagem à luz durante o processamento do filme…
A hora em que o diabo entra!

Lorca descreve linhas. Vive por elas. Tenta delimitá-las. Elas estão por toda parte, especialmente quando ele faz “arte”.
Sim, porque ele tem esse modo de dizer: quando não trabalho, quando não negocio, sou artista.
E, quando trabalho, tenho felicidade do mesmo modo.

Mas sempre procuro a linha. Preciso dela. Meu canteiro. Pra trabalhar, pra viver. Fujo dela enquanto a persigo. Gatos e ratinhos.

Esta exposição começa com seus selfies, a provar o que todo mundo a esta altura já sabe, que os selfies, ou autorretratos, existem desde muito antes da internet, desde que o homem começou a fazer parte de um concerto (ou conserto) de ideias, de um ideário do capital. Quando o sistema, antes religioso e perene, disse ao homem “vire-se, você está só”, ele não teve jeito senão parar de olhar um pouco para deus, engolfando-se em si.
Selfies!
O intenso, em Lorca, é que ele faça essa autoprocura muito além dos selfies (que, me perdoe a curadoria, não deveriam começar a exposição, visto que no fim das contas se tratam de ilustrações rasas da personalidade do artista, brincadeiras de esconder).
Sua autoprocura tem, pelo contrário, algo de fé. Ela se expressa não só quando Lorca exibe homens e mulheres religiosos vestidos à maneira medieval, misturados em tarefas tão mundanas como atravessar a rua com uma criança ou pegar a barca enquanto lê um jornal.

Lorca é religioso quando busca um princípio, uma devoção, um centro, quando deixa escapulir pelo Anhangabaú a girafa de um trabalho de publicidade e a coloca em um cercado à vista de todos.

Não é uma imagem fácil de ver.
Todos estão à volta se situam entre o sorrio e o calafrio.
A girafa pode fugir.
A girafa é ele. É seu trabalho.
Grande por se conter.
Mas não lhe peçam contenção, ok?